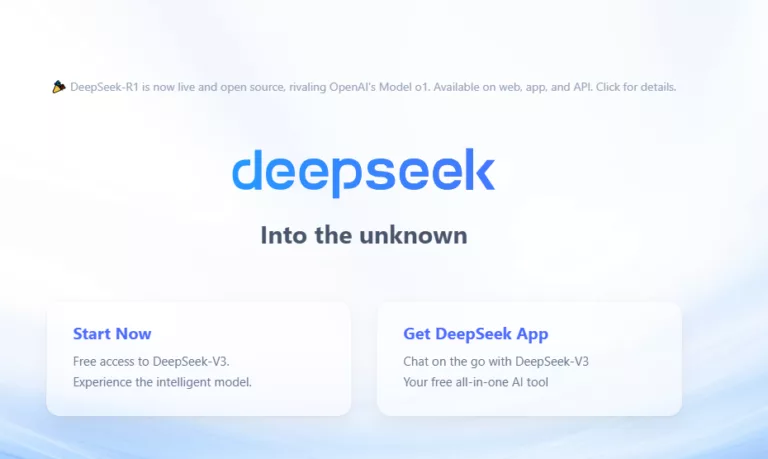A campanha entra em nova fase e Hillary Clinton e Donald Trump têm suas candidaturas praticamente asseguradas. Mas esta não é uma eleição usual. Ambos têm alta rejeição entre os eleitores em geral e mesmo em parte do seu próprio campo.
Analisá-la segundo as noções tradicionais de estados democratas, republicanos e indecisos (swing states, aqueles cuja oscilação costuma decidir a eleição) é correr o risco de deixar escapar questões mais decisivas.
Há quatro anos na mesma altura da campanha as pesquisas indicavam números como 47% para Barack Obama e 45% para Mitt Romney. Hoje, trazem em média 43% para Hillary e 41% para Trump e uma delas 38% e 34%, respectivamente.
Tal número de indecisos, ou dispostos a se abster ou votar em um terceiro candidato, é inédito, como também ver Hillary quase empatada com Trump no estado “republicano” do Arizona e o republicano em seus calcanhares em New Jersey, estado “democrata”. O bipartidarismo tradicional parece estar às portas de uma crise análoga à vista em países europeus como a Grécia e a Espanha.
O populismo xenófobo e pragmático de Trump venceu as primárias republicanas, mas não convenceu as tendências mais principistas da direita estadunidense que tradicionalmente se agrupavam no mesmo partido.
Duas vertentes ideológicas, a neoliberal radical e a neoconservadora, podem lhe tirar votos decisivos ao abandonar a campanha presidencial republicana para apoiar candidatos de protesto, mesmo sem chances de vitória.
O Partido Libertário, defensor radical do Estado mínimo e das liberdades individuais desde 1971, participou de 11 eleições presidenciais com resultados pífios. O melhor foi 1,06% em 1980, com uma chapa que reuniu o advogado Ed Clark a David Koch (um dos irmãos Koch) pela redução dos impostos.
Entretanto, uma pesquisa da Fox News publicada em 20 de maio dá a seu candidato Gary Johnson, empresário e ex-governador republicano do Novo México, 10% de intenções de voto em uma disputa com Trump (42%) e Hillary (39%), chegando a 18% entre menores de 35 anos e eleitores sem partido. São fundamentalmente neoliberais republicanos e independentes que não digerem o protecionismo nacionalista de Trump.
Johnson, que obteve apenas 0,99% dos votos em 2012, anuncia um programa “socialmente liberal e fiscalmente conservador”. Inclui abolir o imposto de renda, facilitar a imigração, retirar tropas do exterior e defender os direitos a aborto, casamento homossexual e uso de drogas.
Uma agenda é tão inaceitável quanto a de Trump para os neoconservadores, cujas prioridades são o combate ao “relativismo moral” e a imposição de uma ordem mundial capitalista, mesmo se isso exigir déficits fiscais para sustentar os gastos militares.
Em 29 de maio, Bill Kristol, editor da revista neocon Weekly Standard, anunciou pelo Twitter o lançamento iminente de um candidato independente “com uma forte equipe e chances reais” e criou certo alarme no campo trumpiano.
Especulava-se sobre Mitt Romney, candidato republicano de 2012 que recusou apoio a Trump, relevante o suficiente para mobilizar doadores e militantes e vencer o difícil desafio de inscrever a candidatura nos 50 estados e conquistar uma fatia substancial dos votos republicanos e talvez até democratas.
Entretanto, Kristol decepcionou o público neocon ao promover David French, um obscuro escritor que critica o feminismo e os direitos LGBT na revista conservadora National Review. Foi um mero golpe publicitário.
Mesmo assim, seria possível presumir que com pelo menos dois candidatos de direita a dividir os votos republicanos e seu correligionário Obama a terminar seu governo com índices decentes de popularidade e uma economia em relativa recuperação (ao contrário de George Bush pai em 1992 ou do filho em 2008), a campanha de Hillary Clinton se tornaria um passeio. Não é o caso. Sua vantagem sobre Bernie Sanders entre os eleitores participantes das primárias democratas é clara e irreversível, mas não esmagadora.
Sanders é um desafiante muito bem-sucedido e, segundo a maioria das pesquisas de opinião junto ao público em geral, é mais popular do que Hillary e capaz de obter sobre Trump uma margem superior à dela. Muitos dos seus militantes e simpatizantes cruzarão os braços na campanha da candidata democrata e alguns se recusarão a ir às urnas, ou mesmo votarão no candidato republicano.
Tal como veem muitos eleitores, a questão não é de crescimento do PIB, mas de concentração de renda, empobrecimento relativo e da falta de perspectiva para as massas. Trump e Sanders concordam em que o sistema neoliberal é injusto para os cidadãos comuns e privilegia as finanças e o comércio exterior, que acordos de livre-comércio são danosos ao emprego e à economia e que as intervenções militares dos EUA no exterior são caras e ineficazes.
Ambos têm bases eleitorais entre brancos de classe média baixa. Claro que suas divergências sobre quem deve ser responsabilizado e quais as medidas a tomar são radicais, claro que Sanders tem mais apelo entre sindicalistas e jovens universitários e Trump é mais aplaudido por eleitores menos escolarizados e mais velhos e preconceituosos.
Mas, para uma parcela não desprezível do eleitorado, o importante é que compartilham sua percepção de que o American Dream faliu, que o país precisa de reformas drásticas e que a globalização é a causa da maioria dos problemas, inclusive a redução da mobilidade social e o aumento da desigualdade.
Hillary, pelo contrário, apresenta-se como a candidata da continuidade e se recusa a ver algo de tão errado no sistema a ponto de exigir soluções drásticas. Como primeira-dama de Bill Clinton, ajudou a promover a virada do Partido Democrata a favor da desregulamentação, incentivo ao investimento privado e tratados de livre-comércio. Promete mais do mesmo e pôr o marido no comando da economia. Como secretária de Estado de Obama comandou uma política internacional agressiva e promete continuar na mesma linha.
É um discurso cômodo para as camadas mais prósperas da classe média, às quais faltam razões pessoais para ver problemas com o neoliberalismo e excelente para o Vale do Silício e demais setores modernos e competitivos da economia dos EUA. É aceitável para boa parte da elite financeira, receosos da imprevisibilidade de Trump e também para as minorias, que são abertamente hostilizadas por Trump e pouco lembradas por Sanders.
O casal Clinton, desde o início de sua carreira política no Arkansas, nunca se esqueceu de contemplar os problemas específicos de negros e latinos, apesar de também aderir à mentalidade punitiva de “lei e ordem” que notoriamente discriminou essas comunidades.
A diferença entre suas intenções de voto e as de Trump, superior a 10% em meados de abril, caiu para 2% ou 3%, no máximo, após a desistência dos demais republicanos. Talvez a diferença volte a aumentar quando seu rival, por sua vez, desistir.
Há analistas dispostos a apostar que Sanders anunciará sua desistência e o apoio a Hillary quando a vitória desta for aritmeticamente estabelecida nas primárias de 7 de junho, assim como esta desistiu na mesma data de 2008, logo após Obama estabelecer sua maioria por margem comparável.
Isso supõe que Sanders é um político democrata “normal”, disposto a aderir em troca do comando de comissões do Senado ou de um papel no futuro governo.
Entretanto, ele construiu sua reputação fora do partido, quer fazer da social-democracia uma alternativa viável nos EUA, é idoso demais para aspirar à sucessão de Hillary e o sucesso inesperado de sua mensagem seria desperdiçado se apoiasse um governo neoliberal.
Talvez lhe seja mais atraente participar da construção de um movimento radical. Jill Stein, líder do Partido Verde, o maior à esquerda dos democratas, ofereceu-lhe a candidatura.
Ele não respondeu e se diz disposto a levar a disputa à convenção democrata (25 a 28 de julho). Seus partidários ainda sonham com um resultado notável na Califórnia, capaz de convencer os “superdelegados”, não vinculados a candidatos, a apoiá-lo no lugar da rival e virar o jogo no último minuto.
A vitória de Trump seria provavelmente ruim para os aliados tradicionais dos EUA no G7, receosos do abandono de acordos comerciais, militares e ambientais que desorganizariam as atuais alianças e fluxos comerciais. Também seria péssima para o México, é claro.
Entretanto, outras partes do mundo têm motivos para recear Hillary ainda mais. As intervenções militares por ela patrocinadas na Líbia, Síria, Iêmen, Ucrânia e outros continuam a ter resultados catastróficos e provavelmente ela insistirá em não admitir o erro.
Por seu compromisso com Tel-Aviv, talvez sacrifique o acordo com o Irã, maior sucesso diplomático de Obama. Na América do Sul e Central, apoiou o Plano Colômbia, as tentativas de golpe na Venezuela, Bolívia e Equador e os golpes consumados em Honduras e no Paraguai.
Provavelmente, tentará renegociar os tratados comerciais do Pacífico e Atlântico com vantagens ainda maiores para os EUA e maiores ônus para os sócios mais fracos. E criticar as políticas de Washington é mais difícil com uma Hillary no comando do que com um Trump.
*Publicado originalmente na edição 904 de CartaCapital, com o título "Uma eleição diferente"